A PEC 241 e o Estado
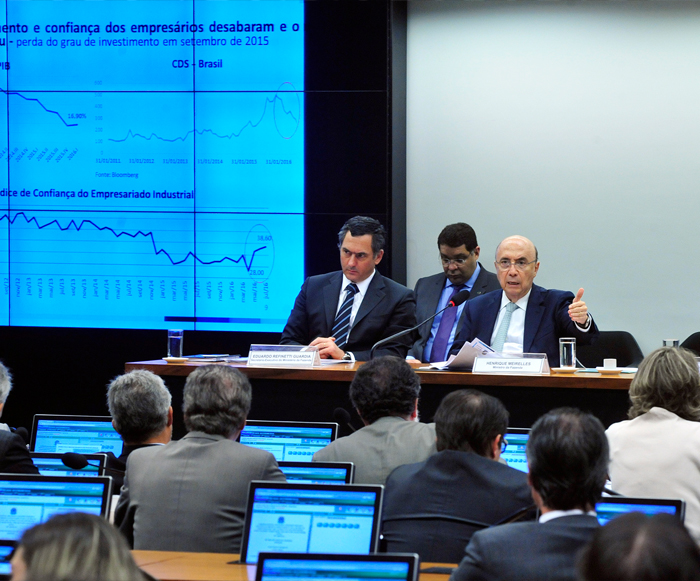 Por Mauro Luis Iasi.
Por Mauro Luis Iasi.
A PEC 241, conhecida como a “PEC do Fim do Mundo”, consiste numa radical medida de contenção dos gastos públicos por vinte anos. Seus defensores alegam que, apesar de um remédio amargo, seria a única saída para equilibrar as contas públicas e propiciar a mítica volta do crescimento econômico, criando um “ambiente favorável” aos investimentos privados e daí a retomada do emprego.
Os pressupostos deste tratamento de choque são amplamente conhecidos e bastante desgastados. Isto é, trata-se de nos fazer crer, mais uma vez, que o desequilíbrio das contas públicas se dá devido a uma espécie de “irresponsabilidade” nos gastos em comparação com a arrecadação, gerando déficits que acabam por acarretar em alta de juros, inflação, desestimulo a atividade econômica e, consequentemente, desemprego.
Este fundamento carece de uma comprovação mais cuidadosa por alguns motivos. Considerando um determinado período de nossa história econômica, mais ou menos de 2004 para cá, a arrecadação de impostos tem se mantido estável, entre 33 e 34% do PIB, segundo levantamento realizado pela Assessoria Econômica do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão do governo ilegitimamente deposto (“Evolução Recente da Carga Tributária Federal”, de novembro de 2015). Os gastos públicos, segundo o Ministério da Fazenda, subiram de 16,7% para 19,6% do PIB. O superávit primário do setor público tem sido igualmente estável, de forma que no governo FHC ficou em 2,3% do PIB, nos governos Lula subiu para 3,7% e no governo Dilma, até ser interrompido, estava em 2,3%.
Todos nós sabemos qual foi o preço de se manter esta política de superávits primários e quem pagou este custo, gerenciado servil e brutalmente segundo as normas da Lei de responsabilidade Fiscal, a reforma da Previdência as políticas privatizantes, a contenção nos gastos sociais. Então a primeira dúvida que nos assalta é: se cortar era o remédio… o que aconteceu?
Mas, não parece estar aí a raiz do problema. Um dado destoa deste tão apregoado equilíbrio: a dívida. O estoque da dívida em 2005 estava em R$ 1,15 trilhão, passou para R$ 2,79 trilhões em 2015 e estimava-se que chegaria a R$ 3,3 trilhões em 2016. As despesas com juros da dívida saltaram de R$ 132,1 bilhões para R$ 367,6 bilhões em 2015.
Segundo Maria Lucia Fattorelli, da Auditoria Cidadã da Dívida, estes números são ainda mais alarmantes, de forma que em 2014 os gastos com a dívida pública teriam alcançado a casa dos R$ 978 bilhões o que corresponde a 45% do Orçamento Federal. A mesma autora revela que este gasto com a dívida representa 12 vezes o que foi destinado à educação, 11 vezes os gastos com saúde e mais do que o dobro do gasto com a Previdência Social.
O que nós já sabemos há muito tempo, e que muitos têm denunciado, é que a chamada Lei de responsabilidade Fiscal e a política de superávits primários são claramente formas de arrochar os gastos sociais em benefício do capital financeiro. Equilíbrio, neste sentido, significa “gastar menos” para que não se comprometa a capacidade do Estado pagar e continuar pagando os juros da dívida interna e externa.
Esse diagnóstico remonta aos anos oitenta e à perversidade de localizar no Estado a fonte do desequilíbrio que deveria ser sanado, mas suas raízes são anteriores. O modelo de desenvolvimento implantado por Juscelino Kubitscheck nos anos cinquenta é o ponto de partida de tudo isso, vejamos.
Como sabemos, Juscelino implantou um modelo fundado na abertura da economia brasileira às multinacionais produtoras de bens de consumo duráveis, utilizando-se para isso toda uma infraestrutura (siderúrgicas, setor elétrico, petroleiro, portos, estradas, aeroportos, etc.) de base estatal criada no período anterior em que se aproveitou a conjuntura advinda da segunda Guerra Mundial. O Estado não apenas assumia o custo desta infraestrutura como desmontava seu incipiente Departamento I, isto é, a indústria de máquinas e bens de capital, em nome de uma industrialização rápida, gerando uma despesa inevitável com a importação de tecnologia e pagamento de royalties.
A fórmula encontrada para evitar o previsível desequilíbrio foi o incentivo à exportação fundada na estrutura agrária tradicional e na mineração, o que leva ao crescimento da concentração da propriedade no campo e a constante expulsão dos camponeses. Este elemento acaba sendo extremamente funcional uma vez que produz uma superpopulação relativa que rebaixa os salários e funciona como atrativo fundamental para os investimentos estrangeiros no setor industrial. Ao mesmo tempo cria o enorme problema urbano com o inchaço das grandes cidades com todos os problemas que daí derivam (isso faz com que vocês lembrem de alguma coisa?).
Ocorre que os custos de manutenção deste modelo recaem fundamentalmente sobre o Estado, seja na manutenção da infraestrutura, nos subsídios às empresas transnacionais, nos custos com a administração de serviços para a nova realidade urbana que se impunha, desde saúde e educação até em segurança, saneamento, moradia, assistência social, previdência, etc. A forma encontrada para contornar este problema (na época considerado passageiro uma vez que o crescimento da economia certamente regularia tudo mais à frente) foram os empréstimos do, então recém criado, Fundo Monetário Internacional (FMI).
Por um lado, o dinheiro vindo dos empréstimos equilibravam as contas, mas por outro geravam uma nova despesa com o pagamento dos juros e serviço da dívida que iam se avolumando. Já ao final no governo Juscelino em 1960/1961 temos uma crise com características muito interessantes: a explosão da dívida, inflação, enormes problemas urbanos, uma brutal concentração fundiária, retração a atividade econômica, desemprego, etc.
O governo João Goulart e seu ministro Celso Furtado fazem um diagnóstico pautado politicamente por um reformismo bastante moderado (que André Singer denomina de “reformismo forte”), mas correto naquilo que constatava, isto é, que os recursos estavam escapando por vias previsíveis: as remessas de lucro para o exterior, a dependência em relação à tecnologia estrangeira, a dependência em relação a exportação de produtos primários que reforçava a estrutura agrária tradicional e levava à crescente expropriação no campo e o inchaço nas cidades. Para enfrentar tal quadro, propõe as famosas reformas de base: reforma agrária, reforma urbana, reforma bancária, reforma universitária, lei que proibia a remessa de lucros, etc.
Nada que um golpe não resolva. Em 1964, o imperialismo, aliado à burguesia brasileira e aos latifundiários, impedem as reformas e impõem a ditadura. A autocracia burguesa imediatamente suspende a lei de remessa de lucros e retoma o mesmo modelo que só se mantém pelo massivo endividamento externo e pesados investimentos de capitais do imperialismo.
Ora, o modelo mantido segue gerando seus conhecidos problemas: cresce a dependência tecnológica e cultural, cresce a dependência financeira, cresce a concentração de terras, as cidades vivem exponencialmente seu caos de reprodução de miséria e violência. Mas o governo do capital não podia apenas responder coercitivamente, é também através de uma serie de medidas, cuja base de sustentação é o crescimento da economia nas bases em que foram definidas pela aliança com o imperialismo, que a autocracia burguesa se mantém. Nesta direção encontramos o acordo MEC/Usaid, a criação da rede Globo de Televisão assim como o apoio à grande mídia coorporativa, além do estabelecimento de uma educação superior pública, de um sistema assistencial e previdenciário entre outras medidas.
Como sempre, o custo de manutenção do modelo, desde os enormes subsídios, o custo de manutenção da infraestrutura estatal, a importação de bens de capital, os custos com a gestão da força de trabalho e da superpopulação relativa e tudo que daí deriva, seria possível pela lógica perpetuada do endividamento. As classes e segmentos de classes aliadas no bloco dominante lucraram muito com este modelo, desde, evidentemente, o imperialismo, o grande capital monopolista investido na indústria, os grandes proprietários de terra, os bancos, o grande comércio exportador e importador, até segmentos de uma burguesia brasileira que aprendeu a se conformar com sua função subsidiária ao desenvolvimento voltado para os interesses monopolistas.
O resultado previsível desta farra foi a quebra do Estado, seja pelo esgotamento do ciclo de crescimento econômico em meados dos anos 1970, seja pelo estouro da dívida e dos elevados custos de manutenção de um modelo econômico falido. É neste momento que aparece o perverso diagnóstico que isenta os verdadeiros responsáveis e culpabiliza o próprio Estado que serviu de instrumento aos seus interesses. O problema seria que o Estado gasta mais do que arrecada, o Estado gasta mal, é perdulário e ineficiente, falta-lhe a capacidade de gestão e controle. Estavam dadas as premissas para o diagnóstico e a terapêutica neoliberal que seria imposta nos anos 1980. Cortes de gastos, privatizações, reforma do Estado… e tudo voltaria a crescer e a vida seria muito melhor.
Não foi. A receita neoliberal arrasou economias com a força de uma praga. No entanto, o que parece apenas uma pura e simples manipulação, na verdade um engodo nem tão sofisticado assim, é muito mais que isso. A alternância de remédios milagrosos e catástrofes previsíveis, escondem que as mudanças operadas funcionam de fato de forma muito eficiente para aquilo que se propõe e para os interesses que representam.
A forma atual da acumulação capitalista mundial tem de responder alguns problemas incontornáveis. Toda produção capitalista altamente desenvolvida desemboca na queda tendencial das taxas de lucro, na concentração e centralização da produção monopolista, na necessidade de exportação de capitais e consequente partilha e repartilha das áreas de influência pela Globo. Estes elementos que já estavam presentes no início desta fase que Lenin tão bem definiu como imperialismo, assumem agora uma forma particular que destaca um dos elementos estudados pelo revolucionário russo: o parasitismo.
O capital precisa se reproduzir em escala ampliada com taxas de lucro aceitáveis, mas encontra barreiras no interior de seu próprio processo de valorização. O Estado passa a ocupar um papel fundamental na administração das contratendências à queda da taxa de lucro, mas muito mais que isso que já havia sido constatado por Marx na segunda metade do século XIX. O Estado não é apenas o sujeito fundamental na administração das medidas que visam reduzir a queda na taxa de lucro (aumento do nível da exploração dos trabalhadores, redução dos salários, aumento da superpopulação relativa, barateamento dos elementos do capital constante, abertura de mercados, autonomização da esfera bancária), mas algumas delas, com o desenvolvimento do modo de produção capitalista na fase monopopolista/imperialista assumiram novas e mais complexas formas.
É o que ocorre com o capital portador de juros. Marx imaginava esta forma de uma maneira particular, diante do sistema bancário de sua época e da prática da emissão de títulos que formam a base da dívida pública. A dimensão do capital na fase atual faz com que a autonomização da esfera bancária (agora já em unidade com o capital industrial) tornasse um dos instrumentos essencial à reprodução do capital, sem que tenha superado aquilo que Marx corretamente identificava como seu caráter “fictício”. O capital fictício pode ser descrito com os mesmos termos que Marx e Engels um dia utilizaram para falar da ideologia, isto é, pode representar realmente algo, sem que representem algo de real.
No momento da crise de superacumulação, parte do capital que não encontra taxas de lucros aceitáveis no âmbito da produção direta de mais valor, migra para a esfera bancário na busca de taxas de juros atrativas. A variação a mais de valor monetário remunerado pelos juros bancários ou do comércio de títulos públicos da dívida no chamado mercado financeiro não representa “realmente algo” se isolarmos o fato da produção real do valor, mas podem nas mãos dos agentes financeiros ou do Estado se tornarem crédito, migrar para a produção e retornar ao processo de valorização. No momento em que navegam no interior da bolha especulativa, estes valores se encontram numa espécie de limbo, podendo tanto de reproduzir artificialmente independente da real alteração na produção de valor (seu caráter fictício) ou servir de crédito ou parte do fundo público.
Aqui ocorre algo que me parece central. Como parte do fundo público o recurso que veio da taxação dos negócios do capital ou da venda de títulos do estado, é uma grandeza de valor que não serve ao capital. Caso seja utilizado em serviços públicos (saúde, educação, assistência, etc.) ele sai do circuito da valorização (seja real ou fictícia). Ocorre que o que vimos no último período é que o capital encontrou formas de capturar boa parte do fundo público salvando-o do abismo que o levava para longe do processo de valorização. São várias as formas, desde o retorno direto como crédito aos capitalistas, como subsídios (que atual diretamente na contra tendência apontada no sentido de baratear os elementos do capital constante), como pagamento de juros que remuneram os portadores de títulos públicos e alimenta a especulação financeira, como remuneração de atividades e serviços terceirizados e mercantilizados através de parcerias públicos/privadas.
É uma tarefa impossível separar, neste estágio de desenvolvimento do capitalismo, a parte que corresponde diretamente ao investimento produtivo direto e o volume do capital que navega nas brumas do capital portador de juros; tudo é capital em diferentes momentos de seu ciclo de valorização.
Bom, nossa hipótese é que o momento do capital na sua forma financeira, portanto, no auge do que se identificou como parasitismo, assume hoje uma função de equilíbrio da acumulação de capitais operada pelo Estado, sem o qual o processo de valorização se interrompe de forma catastrófica. Mesmo a produção direta de valor, esfera da qual em última instancia vem toda a produção real de novo valor, acaba ficando dependente da boa saúde do momento financeiro.
Ora, quando vemos os termos da PEC e seu radical arrocho sobre as contas públicas, os cortes na saúde, na educação, na assistência e previdências sociais, nas diversas formas de políticas sociais, fica mais do que evidente que se trata de manter a capacidade do Estado em cumprir sua função essencial no período em que estamos, qual seja, manter a capacidade de produzir superávits que serão sugados pelos mecanismos do endividamento público. Soma-se a isso o fato que são poupados da sanha dos cortes as bondades via subsídios ao grande capital, algo entorno de R$ 240 bilhões, da mesma forma que o ajuste para o judiciário e os recursos para as forças armadas, por motivos óbvios.
A maioria da sociedade tem que se sacrificar e abrir mão de seu futuro para salvar uma insignificante minoria de super ricos e seu modo de produção parasitário. De novo!
A única conclusão que podemos chegar é que esta PEC é um instrumento fundamental para manter o mesmo mecanismo que gerou a crise que ela agora diz querer enfrentar, para gerar um novo ciclo de “crescimento” cada vez mais limitado e cada vez mais destrutivo que irá gerar uma crise ainda maior no médio ou curto prazo, como ficou comprovado em todos os países da Europa que seguiram este caminho e na Grécia onde tal alternativa gerou a catástrofe que agora se presencia.
Temos que reagir e nos levantar agora, enfrentando decididamente estas medidas, ou pagaremos, nós e a próxima geração, um alto preço por nossa omissão.
O dossiê especial de intervenção “Não à PEC 241”, do Blog da Boitemporeúne artigos, entrevistas, análises e vídeos que destrincham de perspectivas diversas o contexto, o processo, a agenda e os efeitos da PEC 241. Lá você encontrará reflexões de Laura Carvalho, Ruy Braga, Flávia Biroli, Guilherme Boulos, Luis Felipe Miguel, Vladimir Safatle, Silvio Luiz de Almeida, João Sicsú, Adalberto Moreira Cardoso, Débora Diniz, Marcio Pochmann, Rosane Borges, Mauro Iasi, Giovanni Alves, Jorge Luiz Souto Maior, Maurílio Lima Botelho, Antonio Martins, Renato Janine Ribeiro, Jessé Souza, entre outros, além de uma agenda das manifestações de rua contra a Proposta de Emenda à Constituição 241.
Mauro Iasi é professor adjunto da Escola de Serviço Social da UFRJ, pesquisador do NEPEM (Núcleo de Estudos e Pesquisas Marxistas), do NEP 13 de Maio e membro do Comitê Central do PCB. É autor do livro O dilema de Hamlet: o ser e o não ser da consciência (Boitempo, 2002) e colabora com os livros Cidades rebeldes: Passe Livre e as manifestações que tomaram as ruas do Brasil e György Lukács e a emancipação humana (Boitempo, 2013), organizado por Marcos Del Roio. Colabora para o Blog da Boitempo mensalmente, às quartas.

